Fonte: Consultor Jurídico
Por Carlos Eduardo de Oliveira Vasconcelos
A polícia como nós a conhecemos é a expressão mais caricatural do estado. Nenhuma criança brinca de juiz e ladrão; todas brincam de polícia e ladrão.
O estado moderno é “o crime organizado que deu certo”. Mas para isso ele teve que se legitimar numa longa trajetória de revoluções, constituições, declarações de direitos fundamentais, sufrágio popular — numa palavra, pela “domesticação” do Leviatã. Aspecto importante desse processo foi a proibição da violência para a solução de conflitos, instituindo-se o monopólio de sua utilização em favor do estado. Mas também era necessário que esse estado fosse constitucional e democrático. A ideia de um estado de Direito fundado na liberdade se opôs ao estado policial caracterizado pelo arbítrio. A polícia é, pois, o órgão de execução da violência legítima pelo estado. Conferir-lhe autonomia é o mesmo que retroceder a um estado policial dentro do estado de Direito.
Não há exemplo no Direito comparado ou na História de polícia autônoma em relação ao estado, nem de democracia que tenha sobrevivido a forças armadas ou policiais desvinculadas de controles. Aliás, democracia não convive com poder sem controle, sobretudo poder que tem o emprego de arma e violência como ferramenta de trabalho. O poder civil e desarmado controla o poder armado, que usa as armas em nome do povo. Quem escolhe uma profissão que usa armas e violência deve estar ciente de que terá que cumprir ordens. O artigo 142 da Constituição dispõe que “as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais, (…) da lei e da ordem.” A mensagem é clara e transcende as próprias Forças Armadas: a instituição armada se subordina ao poder civil, isto é, ao voto. Não será a polícia que se subtrairá à legitimidade que provém do sufrágio popular, que é de onde emana a soberania.
Além das armas, as polícias modernas acumularam recursos tecnológicos e capacidade de captação e armazenamento de dados que também podem ser usados abusivamente. Essa particularidade torna a questão do controle mais crucial. O controlador, seja ele o MP, o Judiciário ou o Parlamento, dificilmente disporá dos meios ao alcance do controlado.
A PEC 412/2009 assumiu inusitada celeridade e evidência a partir da operação “lava jato”, também estimulada pelo lobby dos delegados federais, que a rotularam de “PEC da autonomia da PF”. Cabem aqui, porém, duas indagações: 1) Que autonomia? 2) Autonomia para quem?
Em outubro de 2014, a presidente da República, em plena campanha eleitoral, na data em que os delegados federais planejavam uma “mobilização nacional”, assinou a MP 657, logo convertida em lei, prevendo que o cargo de Diretor-Geral seja privativo de delegado da PF. Na ocasião, foi também etiquetada de “MP da autonomia da polícia federal”. Qual teria sido a urgência capaz de justificar constitucionalmente a edição de tal medida provisória? Outras polícias de igual ou maior prestígio (FBI, Interpol, Scotland Yard) permitem que sua chefia seja exercida por qualquer pessoa com notável conhecimento de segurança pública, atributo não exclusivo nem presumível de delegados de polícia.
A PEC 412 prevê autonomia funcional, administrativa e financeira, inclusive a elaboração do próprio orçamento. A autonomia que interessa, a investigativa, a PF já possui de sobra. A seleção é praticamente a regra. Ela investiga o que bem entende, sem qualquer pressão política, o que lhe é conveniente, o que lhe dá visibilidade, isto é, casos de maior repercussão, invariavelmente aqueles que têm por alvos pessoas do mundo político e econômico. Inquéritos ou diligências requisitadas pelo Ministério Público e pelos juízes, que em tese estaria obrigada a atender, são tratados com desdém. Discricionariedade e seletividade descontroladas conduzem ao arbítrio, ao monopólio na definição do que deve ou não ser investigado, e reduzem a pó os princípios republicanos da isonomia, legalidade, obrigatoriedade e indisponibilidade da ação penal.
Se a PF já dispõe da autonomia investigativa que diz buscar, no fundo, o que almeja com essa PEC 412 é o mesmo objetivo visado com tantas outras reivindicações normativas pretéritas e futuras: concentração de poder, isto é, atributos estranhos à função de investigar crimes. Descolando-se do Executivo, alheia a crises econômicas e restrições orçamentárias, a Polícia Federal assumiria uma relevância no conjunto das funções do estado que faria inveja à educação, à saúde, à previdência social. A autonomia facilmente se converteria em soberania, pois seria virtualmente impossível resistir às pretensões de uma polícia dotada de tamanhos poderes. Qual deputado votaria contra sua pretensão orçamentária? Que consequências sofreria um juiz que indeferisse uma representação por escuta telefônica ou prisão preventiva?
A falácia do discurso favorável à PEC 412 desnuda-se por inteiro quando se verifica que a propalada “autonomia da polícia federal” nada mais é que a autonomia dos delegados — se tanto. Os outros dois terços dos policiais — peritos em diversas áreas, escrivães, agentes, a maioria feita de profissionais altamente competentes, muitos com pós-graduação em suas áreas — estarão sempre fadados a posições subalternas, porque só os delegados podem ocupar funções de direção. Alguém já disse, não sem alguma razão, que a carreira de delegado é a única em que o indivíduo faz concurso para logo de início ser chefe, por vezes de pessoas muito mais experientes e habilitadas. Há uma compreensão equivocada dos delegados de que só eles fazem parte da atividade-fim; os demais seriam meros coadjuvantes da função policial. Essa mentalidade gera uma estrutura elitista, preconceituosa e obsoleta na corporação, impede a modernização e a receptividade a novas demandas da segurança pública, que exigem organizações flexíveis, aptas a respostas descentralizadas. Se atentarmos às manifestações de entidades representativas desses outros policiais (Fenapef), perceberemos que o clima de convivência interna inclui assédio moral, agentes e delegados que mal se cumprimentam, ambientes que beiram o confronto físico.
Cabe indagar que efeitos esperar dessa autonomia dos delegados, na absurda hipótese de a PEC 412 ser aprovada e o Supremo Tribunal Federal não derrubá-la por inconstitucionalidade, como já fez na ADI 882 com semelhante desvario ensaiado na Constituição de Mato Grosso. Como seria o relacionamento de uma autarquia armada autônoma com o poder eleito? Como o estado poderia definir e implementar políticas de segurança pública tendo que “negociar” com essa polícia? Um poder armado passaria a ter a prerrogativa de interpretar a Constituição e a lei sobre quando e como agir, pois, segundo a peculiar noção de estado de Direito dos defensores da proposta, não é republicano “querer subordinar uma instituição a outra”, mas só “à lei”, pois somente à entidade abstrata “sociedade” cabe a “vigilância para que a Polícia Federal não seja desviada de sua finalidade”. A polícia federal se converteria em órgão do monopólio da violência de si mesma, sem prestar contas a ninguém, com todo seu aparato de armamento, tecnologia e inteligência.
No mais, a “autonomia da PF” não seria nem mesmo dos delegados, mas apenas de seu diretor-geral e de sua seleta entourage, considerando sua estrutura fortemente hierárquica. No plano administrativo-financeiro, é ele que passaria a dispor das verbas e de amplos poderes para promover qualquer modificação administrativa. Imagine-se depois o efeito cascata dessa autonomia nas combalidas finanças estaduais, em detrimento de professores, servidores da saúde e outros.
O que querem, afinal, os delegados? Um olhar retrospectivo e uma leitura cuidadosa de textos corporativos revelam que a voracidade das associaçõesde delegados (não necessariamente de todos os delegados federais) é insaciável para o futuro. Apesar dos frequentes embates com o MP, eles na verdade querem ser juízes sem perder a direção da investigação policial, daí essa canhestra figura do “delegado-jurista”, que, junto com a hipertrofia da categoria, tem sido disfuncional à capacidade operacional das polícias.
O “delegado-jurista” vive o paradoxo de querer se aproximar do Judiciário e se distanciar das mazelas da polícia, mas sem abrir mão de uma pretensa exclusividade da investigação e da direção da corporação. Essa aspiração explica a ênfase na cultura jurídica na investigação, assim como o apego ao inquérito policial como uma espécie de reserva de mercado, cujo anacronismo como método de investigação já foi cantado em prosa e verso, parecendo que só persiste por instinto de sobrevivência dos delegados. Ao presidi-lo, colher depoimentos e indiciar o suspeito, o delegado se vê como um arremedo de juiz de instrução. Um tipo de magistratura armada, que não quer ser polícia, mas “não larga o osso” de dirigir o arsenal bélico, de inteligência e tecnologia policial.
Investigação criminal conduzida “exclusivamente” por delegado; tratamento de “excelência”; cargo de Diretor-Geral privativo de Delegado de Polícia Federal; autonomia de todo tipo; eleição do Diretor-Geral, com mandato certo: o céu é o limite para o projeto de poder das associações de classe.
Em conclusão, pelo visto até aqui, o Brasil não quer nem precisa dessa monstruosidade, que bem poderia ser rotulada de “polícia jabuticaba”, porque só existiria aqui.



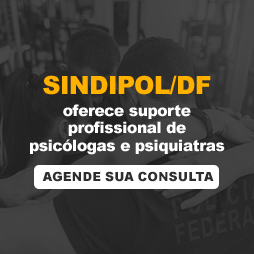


Comments are closed.